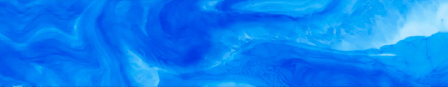Em um ensaio de 2004, a falecida escritora Hilary Mantel conheceu a história de Gemma Galgani, uma mística italiana do século 19 que recusou comida, teve feridas nas mãos/nos pés que ela alegou serem estigmas (um médico declarou que foram autoinfligidas com uma agulha de costura) e acreditava que suportar períodos de intenso sofrimento físico poderia expiar todos os pecados cometidos pelos sacerdotes. Há algo irritantemente atemporal, escreve Mantel, sobre mulheres jovens que “passam fome e se purgam e; perfuram e cortam sua carne”, mesmo que não endossemos mais tal comportamento como devoção espiritual. Galgani foi canonizada como santa em 1940. Enquanto a veneravam, poucas pessoas notaram que ela tinha pavor de médicos, odiava ser examinada e escreveu uma vez sobre uma criada que “costumava me levar para um quarto fechado e me despir”. É mais fácil, talvez, acreditar em milagres do que contar a dor de uma garota que alguém está machucando de maneira bastante convencional.
A questão do que as pessoas acreditam e do que não acreditam é a principal preocupação de O Milagre, uma nova adaptação da Netflix de um romance de 2016, de Emma Donoghue. Situado em 1862 na Irlanda, logo após a Grande Fome matar cerca de 1 milhão de pessoas, o filme começa quando uma enfermeira inglesa, Lib (Florence Pugh), viaja para uma parte rural do país para uma comissão incomum. Lib foi contratada para cuidar de uma menina de 11 anos que alguns moradores acreditam ser um milagre vivo: ela vivia, saudável e aparentemente sem comer, há vários meses. “Ela é uma joia”, diz um visitante com reverência, oferecendo dinheiro aos pais da menina.


Lib é uma cientista, o tipo de pragmatista severa determinada a dissipar esse absurdo místico. Mas ela é desarmada quase imediatamente pela garota, Anna (Kíla Lord Cassidy), que encara Lib durante seu primeiro exame com uma compostura que é em parte taciturna, parte beatífica. “Eu não preciso comer”, Anna diz a ela. “Eu vivo de maná. Maná do céu.” Os anciãos da vila querem cooptar Anna para seus próprios fins: o médico (Toby Jones) a vê como uma descoberta científica em formação, uma garota que pode viver como uma planta com ar, água e sol; um senhorio (Brían F. O’Byrne) a imagina como “nossa primeira santa desde a idade das trevas”. Já um jornalista enviado para investigar a situação, Will Byrne (Tom Burke), declara que Anna e sua família são golpistas, enganando católicos crédulos para obter lucro. Em uma cena, o diretor, Sebastián Leilo, projeta a silhueta reclinada de Anna contra as colinas escuras da paisagem irlandesa, fazendo de seu corpo físico o pano de fundo para as teorias imaginativas de todos.






Os céus estão pesados de chuva e falácia patética; raramente um filme parece tão frio, tão úmido ao toque. A fome é a tela narrativa e o cenário – não apenas de Anna, mas de todos. Quando Lib come, antes e depois de seu turno, é com eficiência sombria; ela empilha comida no garfo com algo parecido com ressentimento enquanto as quatro filhas do estalajadeiro a encaram silenciosamente. Lib acha o jejum prolongado de Anna difícil de analisar: ela inicialmente parece saudável o suficiente, mas logo começa a se deteriorar sob a estrita supervisão de Lib. “Ela está morrendo”, Lib diz furiosamente à mãe de Anna. “Ela foi escolhida”, responde a mãe de Anna (Elaine Cassidy), resoluta em sua crença de que, embora a vida seja brutal e curta, o céu e o inferno são eternos. Todos, exceto Lib e Will, parecem curiosamente insensíveis à morte lenta de uma criança. Eles estão mais inclinados a bajular sua disciplina e admirar o espetáculo sagrado de sua auto-aniquilação.


Esse espetáculo, como aponta o ensaio de Hilary Mantel, não é nada novo. Emma Donoghue escreve que baseou seu livro em quase cinquenta casos das chamadas “Fasting Girls” – jovens mulheres em todo o mundo que se tornaram famosas por supostamente sobreviverem sem comida. Mas Anna parece mais parecida com Sarah Jacob, uma garota galesa em meados do século 19 que alegou ter existido sem comida desde os 10 anos de idade, mas que morreu quando seu jejum foi colocado sob estrita vigilância médica. A anorexia mirabilis, a condição de se recusar a comer por motivos espirituais, é tão onipresente na história da humanidade quanto a peste e os piolhos.
As meninas sempre procuraram se reduzir por razões que nem sempre foram capazes de explicar. Mas o contexto moderno preenche as lacunas. Passar fome em um estado de amenorreia secundária (em que uma pessoa para de menstruar) é uma forma de evitar a fertilidade, o casamento indesejado ou o desejo masculino. Reza a lenda que a freira italiana Columba de Rieti certa vez foi despida por uma gangue de homens que recuou quando viram as cicatrizes de seus ferimentos autoinfligidos. E não comer – como qualquer pai de criança sabe – é um ato de desafio , que é uma postura raramente permitida às meninas. O Milagre, felizmente, resiste à diminuição física de Anna à medida que o filme avança (o livro é mais explícito nesse aspecto), mas a performance composta de Cassidy transmite que Anna está brincando com o poder. Ela é teimosa, ela é determinada, ela está morrendo.
Quando O Milagre foi revisado como um romance, vários críticos reclamaram da revelação no final do livro que justifica as ações de Anna, como se fosse muito monótono para um conto de outra forma extraordinariamente elaborado. Não vou estragar totalmente o que acontece, mas é revelador que um crime comum contra meninas pode ser descartado por ser, nas palavras de Stephen King, “um pouco gótico e conveniente demais”. É natural, suponho, desejar uma história mais incomum – querer acreditar na magia sagrada e no mistério, em vez de no sofrimento mortal e na humilhação. Mas a bênção de O Milagre é como ele reconhece as coisas em que mais queremos acreditar e ainda propõe, no final, que os atos humanos e a fé nos outros podem ser as coisas mais milagrosas de todas.
5 pipocas!


Disponível na Netflix.